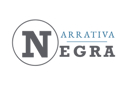BRANQUITUDE COMO ESTRUTURA: UM ESTUDO CRÍTICO A PARTIR DE CIDA BENTO
Tamiris Eduarda
4/24/20258 min read


1. Introdução
O racismo no Brasil não se sustenta apenas pela exclusão das populações negras e indígenas, mas também — e sobretudo — pela permanência de uma estrutura social que privilegia os sujeitos brancos, ainda que de forma silenciosa e muitas vezes inconsciente. Essa estrutura, nomeada por Cida Bento como branquitude, atua como um sistema de poder que organiza a sociedade a partir da centralidade branca, distribuindo privilégios simbólicos e materiais a esses sujeitos, independentemente de sua classe social.
Diferente de uma abordagem centrada exclusivamente nos efeitos do racismo sobre os sujeitos negros, este trabalho propõe deslocar o foco da análise para aqueles que se beneficiam da manutenção do racismo estrutural. Ao reconhecer que a branquitude é um lugar social que se perpetua por meio de um pacto tácito de proteção mútua entre pessoas brancas — o chamado pacto narcísico da branquitude — é possível compreender como o racismo se atualiza em instituições, políticas públicas, no mercado de trabalho, na saúde e na produção do conhecimento.
A presente investigação tem como objetivo discutir a branquitude como tecnologia de reprodução das desigualdades raciais no Brasil, a partir da perspectiva crítica de Cida Bento, em diálogo com autoras como Sueli Carneiro e Grada Kilomba. Ao desnaturalizar os mecanismos de invisibilidade que sustentam o poder branco, busca-se contribuir para a construção de uma análise antirracista que reconheça a branquitude como parte ativa da hierarquia racial. Mais do que provocar reflexões individuais, trata-se de propor uma responsabilização coletiva e institucional no enfrentamento das desigualdades raciais.
2. A branquitude enquanto estrutura
A branquitude, conforme delineada por Cida Bento (2022), não é apenas uma identidade racial, mas uma estrutura sociopolítica que naturaliza os privilégios dos sujeitos brancos e organiza as relações raciais a partir da sua centralidade. Ao contrário do que muitas vezes se entende, a branquitude não se limita à cor da pele ou à experiência individual, mas é um sistema de referências que determina o que é considerado belo, legítimo, racional, civilizado e humano.
Em sociedades marcadas pela colonialidade, como é o caso do Brasil, a branquitude opera como norma invisível — o lugar de onde se fala sem se nomear. Essa invisibilidade é um dos seus mecanismos mais potentes, pois impede que a branquitude seja percebida como posição de privilégio. O sujeito branco, por estar identificado com o universal, é raramente interpelado a refletir sobre a própria racialidade. Como afirma Sueli Carneiro (2023), é preciso racializar o branco, ou seja, retirar o sujeito branco de sua posição de universalidade e evidenciar que ele também é produto de uma construção racial histórica e política.
Cida Bento propõe que o enfrentamento ao racismo precisa passar, necessariamente, pela denúncia e desnaturalização dessa estrutura de privilégios, que atua tanto em relações interpessoais quanto nas instituições. A branquitude está presente nos currículos escolares, nas decisões judiciais, nos critérios de contratação e promoção no mercado de trabalho, nos protocolos de atendimento na saúde pública, entre outros espaços onde o poder se materializa.
Além disso, Bento enfatiza que a branquitude transpassa a questão de classe. Ainda que o capitalismo racialize a pobreza e a desigualdade, é preciso reconhecer que, em situações de vulnerabilidade semelhantes, o sujeito branco tende a receber maior empatia, proteção e legitimidade social que o sujeito negro. Esse dado revela que a branquitude é um marcador estrutural de valor social, que organiza quem é digno de cuidado, escuta, justiça e oportunidades.
Portanto, compreender a branquitude como estrutura é essencial para a formulação de políticas públicas verdadeiramente antirracistas, pois implica desconstruir os mecanismos que mantêm o sujeito branco como centro da experiência social e abrir espaço para a valorização de outras epistemologias, saberes e formas de existência historicamente marginalizadas.
3. O pacto narcísico da branquitude
Um dos conceitos centrais desenvolvidos por Cida Bento (2022) para compreender a permanência da desigualdade racial nas instituições brasileiras é o de pacto narcísico da branquitude. Esse pacto refere-se a um acordo tácito entre pessoas brancas para manter outras pessoas brancas em posições de poder, mesmo que isso implique silenciar, desqualificar ou impedir o acesso de pessoas negras a esses espaços.
Esse pacto se manifesta de forma sutil, muitas vezes travestido de critérios técnicos, meritocráticos ou de confiança interpessoal. Segundo Bento, as decisões institucionais frequentemente se baseiam em afinidades raciais inconscientes, nas quais pessoas brancas são escolhidas, promovidas ou defendidas em detrimento de pessoas negras, ainda que estas últimas apresentem mais qualificação ou competência para a função. Trata-se de um “narcisismo das pequenas diferenças” que sustenta a ideia de que só o branco é confiável, capaz ou neutro o suficiente para ocupar certos lugares.
Esse comportamento se repete em diversos campos — da educação à saúde, do mercado corporativo à produção de conhecimento. Ele revela o funcionamento da branquitude como lógica de coesão e autopreservação, que ignora a diversidade e inibe o avanço das políticas de equidade racial. Ao proteger os seus, o pacto narcísico se coloca como barreira real à inclusão, mesmo em instituições que se dizem comprometidas com a diversidade.
Importante destacar que esse pacto não depende da consciência ou má-fé dos sujeitos envolvidos. Trata-se de uma estrutura psíquica e social internalizada, reforçada historicamente por um imaginário coletivo que associa o branco à racionalidade, à liderança e à civilidade. Como afirma Grada Kilomba (2019), a branquitude se sustenta pelo silêncio e pela negação da violência racial que perpetua: "A violência não é apenas física, mas epistêmica, afetiva e institucional."
Esse pacto também tem efeitos psicológicos significativos nas populações negras, que vivem constantemente o sentimento de exclusão, inferioridade e deslegitimação. A ausência de representatividade e o constante questionamento de suas competências tornam-se experiências estruturantes da subjetividade negra. Combater o pacto narcísico da branquitude, portanto, não é apenas uma questão institucional, mas uma ação fundamental para a promoção da saúde mental da população negra.
4. A branquitude na produção de silenciamentos
A branquitude, enquanto estrutura de poder, não se limita à ocupação de espaços institucionais e simbólicos — ela também opera na produção de silenciamentos, decidindo quem pode falar, o que pode ser dito e quais narrativas serão legitimadas. Esse processo, que se desdobra em diversos âmbitos da vida social, é especialmente evidente na produção do conhecimento, na mídia, nas artes, na política e até mesmo nos espaços terapêuticos e acadêmicos.
Grada Kilomba (2019), ao abordar os efeitos do racismo epistêmico, afirma que as pessoas negras vivem cotidianamente o que chama de “dupla violência”: primeiro, ao sofrer o racismo; depois, ao terem suas experiências negadas, silenciadas ou invalidadas. A branquitude, nesse sentido, atua como filtro e censura, decidindo o que é “ciência” e o que é “militância”, o que é “discurso válido” e o que é “vitimismo”, o que é “universal” e o que é “identitário”.
A naturalização da branquitude como lugar de neutralidade e saber universal está diretamente ligada à exclusão sistemática de narrativas negras dos espaços de poder e produção de verdade. Isso se manifesta, por exemplo, na ausência de autores negros nos currículos escolares e universitários, na baixa representatividade de professores e pesquisadores negros, e na raridade de gestores negros em cargos de liderança institucional. Como afirma Sueli Carneiro (2023), o racismo é também epistêmico, porque determina quem é autorizado a nomear o mundo.
O silêncio imposto aos corpos negros não é apenas ausência de fala, mas condição estruturante da colonialidade do saber. Nesse processo, a subjetividade negra é constantemente deslegitimada: quando fala, é “radical”; quando denuncia, é “exagerada”; quando propõe mudanças, é “emocional demais”. Esse ciclo compromete a autoestima, o pertencimento e o reconhecimento dos sujeitos negros como produtores de pensamento e cultura.
Portanto, desconstruir a branquitude também implica romper com os silenciamentos históricos e cotidianos que ela impõe, abrindo espaço para uma escuta radical das vozes negras. Isso exige uma reconfiguração profunda nas práticas institucionais, pedagógicas, terapêuticas e acadêmicas, de modo que a pluralidade racial, cultural e epistemológica deixe de ser exceção e passe a ser norma.
5. A responsabilidade branca e o desafio da escuta
Desnaturalizar a branquitude exige não apenas denúncia, mas também responsabilização ativa daqueles que ocupam esse lugar social. Ao contrário da lógica paralisante da “culpa branca” — que se manifesta em sentimentos de defensividade, negação ou vitimização frente à crítica racial — Cida Bento (2022) propõe o conceito de responsabilidade branca. Isso significa reconhecer que, ainda que não sejam os criadores diretos das desigualdades raciais, os sujeitos brancos se beneficiam delas cotidianamente, e, portanto, têm o dever ético de agir para desmontar essa estrutura.
Assumir essa responsabilidade exige que a branquitude abra mão de privilégios, questione os pactos que a sustentam e, principalmente, se disponha a escutar o que sempre tentou silenciar. Escutar, nesse contexto, é mais do que ouvir: é permitir que a dor, a denúncia e o saber racializado produzam deslocamento e desconforto. Como afirma
Kilomba (2019), a escuta branca, quando verdadeira, “requer a desconstrução de um lugar de privilégio epistêmico e emocional.”
A responsabilidade branca também se manifesta nas instituições. Em vez de ações pontuais e simbólicas de diversidade, é preciso repensar as estruturas que naturalizam a exclusão: desde os processos seletivos e currículos escolares até os protocolos de saúde mental, as práticas de escuta terapêutica e os sistemas de justiça. Como argumenta Sueli Carneiro (2023), a luta contra o racismo deve partir da redistribuição do poder, não da simples inclusão subordinada.
No campo da psicologia, a responsabilização da branquitude implica uma revisão crítica da ideia de neutralidade. A psicologia tradicional, construída a partir de referenciais eurocêntricos, muitas vezes reproduz e perpetua a violência racial, ao não reconhecer o impacto do racismo na subjetividade negra. É preciso que psicólogas e psicólogos, especialmente brancos, interroguem o próprio lugar de fala e atuação, e se comprometam com uma escuta racialmente situada.
Assim, enfrentar a branquitude não é apenas tarefa das pessoas negras, mas principalmente um exercício de coragem e ética por parte dos brancos, que devem abandonar a posição confortável do silêncio e da negação, para se implicarem na transformação radical das estruturas que os beneficiam.
6. Considerações finais
Este artigo buscou discutir a branquitude como uma estrutura de poder racializada que organiza desigualdades no Brasil, a partir do pensamento de Cida Bento e em diálogo com autoras como Sueli Carneiro e Grada Kilomba. Ao deslocar o foco da análise do sujeito negro para a centralidade branca, propusemos compreender como o racismo se mantém também por meio de pactos institucionais, privilégios invisibilizados e silenciamentos epistêmicos.
A branquitude, longe de ser um fenômeno individual ou apenas identitário, revela-se como um sistema ativo de manutenção do status quo racial, atravessando as relações sociais, os saberes legitimados e os acessos materiais. Nomear essa estrutura e seus efeitos é um passo fundamental para o enfrentamento do racismo em sua complexidade histórica, subjetiva e institucional.
Além da crítica, o artigo aponta para a necessidade de responsabilização da branquitude como dimensão ética e política. Trata-se de provocar escuta, desconforto e ação antirracista por parte daqueles que historicamente foram poupados da dor racial. Na psicologia, esse movimento implica revisar os paradigmas tradicionais e construir práticas verdadeiramente comprometidas com a equidade racial.
Concluímos, portanto, que é impossível combater o racismo sem interrogar a branquitude. E é impossível construir justiça racial sem escutar e legitimar os saberes, vivências e epistemologias negras como centrais na produção de mundo.
Referências
• Bento, C. (2022). O pacto da branquitude. São Paulo: Companhia das Letras.
• Carneiro, S. (2023). Racismo, sexismo e desigualdade
• no Brasil. São Paulo: Selo Sueli Carneiro.
• Kilomba, G. (2019). Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano. Rio de Janeiro: Cobogó.
• Fanon, F. (2008). Pele negra, máscaras brancas. Salvador: EDUFBA.
• Ribeiro, D. (2017). O que é lugar de fala? Belo Horizonte: Letramento.
• Silva, L. H. (2021). "Branquitude e os desafios éticos da escuta clínica racializada". Revista Psicologia & Sociedade, 33(1), 1-15.