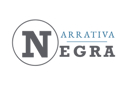O PODER PÚBLICO É UM AGENTE MIRANDO UM FUZIL PARA A FAVELA
Este artigo busca analisar o papel do Estado brasileiro como agente repressor e exterminador nas favelas, investigando como a necropolítica molda a violência institucional. Pretende-se, também, explorar a metáfora do fuzil como símbolo do poder público e suas implicações na perpetuação do genocídio da população negra e periférica. Por fim, o trabalho busca contribuir para o debate sobre a necessidade de desmilitarizar as políticas de segurança pública e reverter as práticas de exclusão e extermínio promovidas pelo Estado.
NARRATIVA AFROCENTRADA
Tamiris Eduarda
2/9/202525 min read


Introdução
A análise da violência nas periferias brasileiras revela a consolidação de uma política de morte aplicada de forma seletiva e sistemática pelo Estado. Essa prática pode ser compreendida à luz do conceito de necropolítica, desenvolvido pelo filósofo camaronês Achille Mbembe, que aborda como o poder se manifesta na determinação de quem pode viver e quem deve morrer. No Brasil, as favelas e comunidades periféricas são os principais alvos de uma política de segurança pública que, ao invés de garantir proteção, perpetua o genocídio da população negra e periférica.
O contexto brasileiro ilustra como a necropolítica, fundamentada em estruturas racistas e excludentes, utiliza o aparato policial como instrumento de repressão e extermínio. Nesse cenário, o fuzil se torna um símbolo do poder público, representando o controle estatal sobre corpos negros e vulneráveis, frequentemente desumanizados e colocados na "zona do não-ser", como argumenta Mbembe (2018). Tal metáfora reforça a ideia de que o Estado não apenas falha em sua função protetiva, mas ativamente contribui para a manutenção de uma lógica de eliminação.
Este artigo tem como objetivo analisar o papel do Estado brasileiro como agente repressor e exterminador nas favelas, explorando como a necropolítica molda a violência institucional e reforça desigualdades estruturais. A discussão se embasará nas contribuições teóricas de Mbembe (2018), bem como em dados sobre violência policial e militarização nas periferias, buscando compreender como essas práticas perpetuam a marginalização e o genocídio da população negra.
Contextualização da Necropolítica no Brasil
O conceito de necropolítica, introduzido por Achille Mbembe, descreve como o poder soberano se manifesta por meio do controle sobre a vida e a morte, transformando determinados grupos sociais em "matáveis". Segundo Mbembe (2018), essa lógica opera em territórios marcados pela exclusão, onde populações marginalizadas são desumanizadas e reduzidas a meros corpos descartáveis. No Brasil, essa teoria encontra ressonância na política de segurança pública, que utiliza a violência como ferramenta para manter a ordem social e reproduzir desigualdades históricas.
A estrutura racializada do Estado brasileiro, herdeira do colonialismo e da escravidão, coloca a população negra como alvo preferencial da violência institucional. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2023) revelam que mais de 75% das vítimas de intervenções policiais são negras, evidenciando como a necropolítica atua na perpetuação do genocídio racial. Além disso, as políticas de militarização das favelas reforçam a ideia de que esses territórios são inimigos internos a serem controlados e eliminados.
Mbembe (2018) argumenta que a necropolítica opera na "zona do não-ser", onde a humanidade dos sujeitos é negada e suas existências são marcadas pela precariedade e pela violência. Essa perspectiva é essencial para compreender como o Estado brasileiro utiliza o aparato policial e militar para reafirmar seu poder, ao mesmo tempo em que nega direitos básicos à população periférica.
A Metáfora do Fuzil como Representação do Poder Público em Territórios Periféricos
O fuzil, no contexto das periferias brasileiras, transcende sua função como arma de fogo, tornando-se uma metáfora do poder público e de sua relação com os corpos marginalizados. Nas favelas, a presença ostensiva de forças de segurança armadas simboliza a violência do Estado contra populações vulneráveis. Essa imagem reforça a percepção de que o Estado, ao invés de ser um agente de proteção, atua como executor de uma política de morte.
Achille Mbembe (2018) destaca que o controle sobre a vida e a morte é um dos principais instrumentos do poder necropolítico. No Brasil, o fuzil empunhado por agentes do Estado em operações policiais demonstra como o poder soberano se materializa na execução sumária de indivíduos considerados indesejáveis. A militarização das favelas, amplamente justificada pelo combate ao tráfico de drogas, transforma esses territórios em verdadeiros campos de batalha, onde os moradores vivem sob constante ameaça de violência.
Além disso, a imagem do fuzil reforça a exclusão simbólica dos moradores das periferias, marcados pelo estigma de perigosidade. Essa dinâmica sustenta a lógica de "guerra ao inimigo interno", que desumaniza a população negra e perpetua a criminalização da pobreza. Como afirma Vargas (2022), "o fuzil não é apenas uma arma, mas uma representação do fracasso do Estado em promover justiça e igualdade".
A Necropolítica Brasileira: Conceito e Aplicações
O conceito de necropolítica, introduzido por Achille Mbembe, refere-se ao uso do poder social e político para ditar como algumas pessoas podem viver e como outras devem morrer. Mbembe argumenta que, em contextos de soberania, o poder se manifesta não apenas na capacidade de decidir sobre a vida, mas principalmente sobre a morte, determinando quais corpos são considerados descartáveis. Ele afirma que "a expressão máxima da soberania reside, em grande medida, no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer".
No contexto brasileiro, a necropolítica se manifesta de maneira evidente através do racismo estrutural, das desigualdades sociais e da violência estatal. O racismo estrutural perpetua a marginalização da população negra, resultando em disparidades significativas em áreas como educação, saúde e segurança. Dados do Atlas da Violência 2024 indicam que, embora tenha havido uma redução geral nas mortes por intervenções policiais em alguns estados, a letalidade policial ainda é alarmante em outros. Por exemplo, o Amapá registrou a maior taxa de letalidade policial em 2024, com 17,06 ocorrências a cada 100 mil habitantes, seguido pela Bahia com 10,48.
Em São Paulo, observou-se um aumento significativo nas mortes causadas por policiais militares. De janeiro a 17 de novembro de 2024, 673 pessoas foram mortas por policiais militares, representando um aumento de 46% em relação ao ano anterior, que registrou 460 mortes.
A pandemia de COVID-19 também evidenciou as desigualdades raciais no Brasil. Estudos indicam que a população negra e indígena foi desproporcionalmente afetada, com taxas de mortalidade mais elevadas em comparação com outros grupos. Fatores socioambientais, como acesso limitado a serviços de saúde de qualidade e condições de vida precárias, contribuíram para essa disparidade.
A metáfora do fuzil representa o poder do Estado nas periferias, onde a presença policial é frequentemente associada à repressão e à violência. Incidentes recentes, como o caso em que um policial militar em São Paulo foi flagrado jogando um homem de uma ponte, destacam a brutalidade policial e a desvalorização da vida nas comunidades marginalizadas.
A criminalização da pobreza e a territorialização da morte são evidências da aplicação da necropolítica no Brasil. Políticas de segurança pública que associam pobreza ao crime resultam em operações policiais violentas nas favelas e periferias, perpetuando um ciclo de violência e exclusão. A ausência de políticas públicas eficazes nessas áreas reforça a marginalização e a vulnerabilidade de seus moradores.
Em suma, a necropolítica no Brasil se manifesta através de práticas estatais que perpetuam a exclusão e a violência contra populações marginalizadas, especialmente negras e pobres. Reconhecer e confrontar essas dinâmicas é essencial para promover uma sociedade mais justa e equitativa.
A Aplicação do Conceito de Necropolítica no Contexto Brasileiro
A necropolítica, conforme delineada por Achille Mbembe, envolve a capacidade do Estado de determinar não apenas quem pode viver, mas também quem deve morrer. No contexto brasileiro, esse conceito se materializa de maneira tangível, especialmente através do racismo estrutural e das práticas de violência de Estado que afetam as populações negras e periféricas de forma desproporcional. A necropolítica se entrelaça com as profundas desigualdades sociais e econômicas que permeiam o país, acentuadas pela herança do colonialismo e da escravidão (MBEMBE, 2018).
O racismo estrutural no Brasil, que se reflete em práticas discriminatórias sistemáticas e em uma hierarquia social baseada na cor da pele, configura uma base sólida para a aplicação da necropolítica. A marginalização da população negra, que compõe a maior parte dos pobres e moradores das periferias urbanas, é uma das facetas mais evidentes dessa dinâmica. No Brasil, o racismo não se limita a atitudes individuais de discriminação, mas está profundamente enraizado nas instituições, nas políticas públicas e nas normas sociais, sendo um determinante chave para o desenvolvimento de um modelo de exclusão social. Esse racismo estrutural, portanto, é um dos pilares que sustentam a necropolítica no país.
A aplicação da necropolítica no Brasil é evidente na criminalização da pobreza e na violência estatal, especialmente através da polícia. A criminalização da pobreza ocorre quando a pobreza é automaticamente associada ao crime, levando as populações mais pobres a serem tratadas como suspeitas em potencial (MBEMBE, 2018). As favelas e periferias, onde a população negra é predominante, se tornam espaços de constante vigilância e repressão. O aumento das operações policiais nas áreas periféricas, muitas vezes acompanhadas de uma letalidade policial alarmante, é um reflexo direto da aplicação da necropolítica. A letalidade policial, em particular, é um exemplo claro de como o Estado decide, muitas vezes, que vidas negras e periféricas são descartáveis. Dados de 2024 indicam que, enquanto algumas regiões do país observaram uma diminuição nas mortes pela polícia, ainda há estados, como Amapá e Bahia, onde as taxas de letalidade continuam a ser altíssimas (IPEA, 2024).
Um estudo realizado pelo Ipea, referente ao período de 2020 a 2024, mostra que as vítimas da violência policial no Brasil continuam a ser, majoritariamente, jovens negros da periferia (IPEA, 2024). Esse cenário não é apenas uma consequência de uma polícia militarizada e repressiva, mas também de um sistema judicial e político que valida essas práticas de extermínio, invisibilizando as vítimas e deixando os responsáveis impunes. A necropolítica se torna, então, um elemento central na manutenção dessa estrutura de desigualdade e violência, onde o Estado age não apenas como um agente de repressão, mas também como um executor, muitas vezes, em nome da ordem pública.
Além disso, a violência policial e o extermínio de jovens negros e pobres se inserem em um contexto mais amplo de desigualdades sociais e econômicas, resultado de políticas públicas historicamente excludentes. A falta de acesso a serviços básicos, como saúde, educação e segurança de qualidade, perpetua um ciclo de violência e exclusão, onde as mortes são vistas como inevitáveis ou, até mesmo, justificáveis (G1, 2024).
A aplicação da necropolítica no Brasil, portanto, vai além da simples repressão policial. Ela é uma expressão de uma estrutura de poder mais ampla, que submete os corpos negros e periféricos a um processo contínuo de marginalização, violência e morte. Como afirma Mbembe (2018), a necropolítica não se resume à política de extermínio, mas envolve também a negação do direito à vida e à dignidade para certas populações. Nesse sentido, o racismo estrutural e a violência de Estado no Brasil são as manifestações mais concretas dessa necropolítica, que mantém vivos os legados da escravidão e do colonialismo, mas de formas novas e sofisticadas.
Em resumo, a necropolítica no Brasil se aplica de maneira direta ao processo de marginalização e extermínio de populações negras e periféricas. A violência de Estado, alimentada pelo racismo estrutural, se torna um mecanismo de controle social que determina quem tem o direito de viver e quem é considerado descartável. O enfrentamento dessa realidade exige uma transformação profunda nas estruturas políticas, sociais e econômicas do país, a fim de garantir que a vida de todas as pessoas, independentemente de sua raça ou classe social, seja igualmente valorizada e respeitada.
Criminalização da Pobreza e Territorialização da Morte nas Periferias
A criminalização da pobreza é um dos mecanismos mais insidiosos e prevalentes no Brasil, particularmente nas periferias das grandes cidades. Trata-se de um processo em que a pobreza, a exclusão social e as condições de vida precarizadas são associadas automaticamente à criminalidade, resultando em uma vigilância excessiva e violenta sobre as populações periféricas. Esse fenômeno está intrinsecamente ligado à territorialização da morte, um conceito que descreve como determinadas áreas geográficas, especialmente as favelas e bairros periféricos, se tornam espaços onde a violência, muitas vezes em nome da "segurança pública", é legitimada como uma resposta à pobreza e ao “delito potencial”.
A criminalização da pobreza no Brasil não é apenas um reflexo de preconceitos individuais, mas uma estrutura de controle social que se perpetua por meio de políticas públicas excludentes e práticas institucionais discriminatórias. A ideia central aqui é que as populações mais pobres, em sua maioria negras, são sistematicamente estigmatizadas como criminosas. A partir dessa estigmatização, o Estado justifica o uso excessivo da força policial e outras formas de repressão. A violência, muitas vezes, é vista como uma forma de disciplinar e controlar essas populações, que são rotuladas como “perigosas” ou “ameaçadoras” para a ordem social estabelecida.
Em muitas favelas e periferias urbanas brasileiras, a presença do Estado é geralmente limitada a operações policiais intensivas, que visam combater o tráfico de drogas e outras atividades criminosas, frequentemente associadas aos jovens negros e pobres. Essas operações resultam em altos índices de violência e morte, sendo as vítimas, em sua maioria, moradores desses territórios. A territorialização da morte, portanto, se refere à maneira como a morte se torna uma constante nesses espaços, onde a vida de certos corpos é descartável e a violência de Estado é a principal ferramenta de controle.
A associação entre a pobreza e a criminalidade é sustentada por uma visão racista e classista da sociedade, que identifica as populações negras e periféricas como “ameaças” à ordem pública. De acordo com o relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) de 2024, as mortes violentas no Brasil ainda têm um padrão racial e territorial muito claro: jovens negros, de classe baixa e residentes em periferias urbanas são as maiores vítimas da violência policial (IPEA, 2024). A estigmatização dessas populações é um reflexo direto do racismo estrutural, que permite que o Estado considere essas vidas como descartáveis.
A territorialização da morte é visível não apenas nas ações diretas da polícia, mas também nas políticas públicas de infraestrutura e serviços básicos. As periferias são frequentemente negligenciadas quando se trata de investimentos em educação, saúde, segurança e moradia, o que perpetua as condições de vulnerabilidade social. Essa negligência contribui para a criação de um ciclo vicioso de marginalização, no qual as condições de vida precárias geram criminalização, e a criminalização, por sua vez, justifica a perpetuação da violência e do abandono.
A territorialização da morte também se reflete nas ações da polícia, que frequentemente age de maneira mais violenta nas periferias do que nas zonas mais abastadas. As operações policiais nessas áreas são muitas vezes executadas sem o devido processo legal e sem a preocupação com a proteção dos direitos humanos. As mortes resultantes dessas operações raramente geram investigações rigorosas ou responsabilização dos agentes envolvidos, o que cria um ambiente de impunidade e perpetua a ideia de que certos corpos podem ser sacrificados em nome da ordem pública.
Em uma análise mais profunda, essa dinâmica se insere em um contexto histórico de marginalização da população negra e pobre no Brasil. Desde o período colonial e durante os anos de escravidão, a população negra foi considerada propriedade e, após a abolição, continuou a ser vista como inferior, sem acesso a direitos plenos e sem proteção. Esse legado de exclusão ainda é evidente hoje, tanto no sistema de justiça quanto nas relações sociais mais amplas, resultando em um ciclo de violência e criminalização que afeta especialmente os jovens negros das periferias urbanas.
O conceito de necropolítica, desenvolvido por Achille Mbembe, também é fundamental para entender essa dinâmica. A necropolítica envolve a capacidade do Estado de determinar quem tem o direito de viver e quem deve morrer. No Brasil, as periferias urbanas funcionam como espaços onde a morte é uma consequência quase inevitável da marginalização e da criminalização das populações negras e pobres. A necropolítica, assim, se manifesta diretamente na violência policial e na repressão que essas populações enfrentam cotidianamente.
Em resumo, a criminalização da pobreza e a territorialização da morte nas periferias brasileiras são fenômenos profundamente entrelaçados com o racismo estrutural e as políticas de repressão do Estado. A população negra, especialmente os jovens das periferias, continua a ser vista como uma ameaça à ordem pública e, como resultado, suas vidas são constantemente ameaçadas pela violência de Estado. O enfrentamento dessa realidade exige uma mudança nas estruturas políticas, sociais e econômicas do Brasil, com um olhar atento à garantia de direitos e à proteção da vida das populações marginalizadas.
A Favela como Espaço de Controle e Exclusão
As favelas brasileiras têm uma longa história de marginalização por parte do poder público. Desde sua formação no período pós-abolição, as favelas surgiram como espaços de resistência e sobrevivência para a população negra, que foi excluída das políticas de urbanização e desenvolvimento econômico. No entanto, essas comunidades sempre foram vistas como "territórios indesejáveis" pela sociedade dominante, e seu crescimento foi tratado com negligência e estigmatização.
A marginalização das favelas se reflete não só na ausência de políticas públicas eficazes, mas também na forma como o Estado e a sociedade percebem essas comunidades. Por muitos anos, as favelas foram tratadas como áreas de risco, associadas à violência, criminalidade e degradação social, sem que houvesse esforços significativos para integrar esses espaços ao restante da cidade. Em vez de serem tratadas como áreas que necessitam de investimentos em infraestrutura, saúde, educação e segurança, as favelas foram vistas apenas como locais de controle, muitas vezes através da repressão e da violência policial.
Esse histórico de marginalização tem profundas raízes na exclusão social, que foi institucionalizada durante o período colonial e continuada na República. A população negra, que compõe a maior parte dos moradores das favelas, sempre esteve à margem das políticas públicas, sendo negligenciada nas áreas de urbanização e inclusão social. O modelo de urbanização desenvolvido no Brasil, especialmente nas grandes cidades, priorizou os bairros de classe média e alta, enquanto as favelas eram deixadas para trás, sendo muitas vezes vistas como espaços de risco e desordem.
O Estado brasileiro, ao longo das décadas, optou por uma abordagem de militarização e repressão das favelas em vez de investir em urbanização e serviços essenciais. As operações policiais em favelas, que muitas vezes resultam em mortes e violação de direitos humanos, são um reflexo dessa política de militarização. Ao invés de oferecer uma presença estatal voltada para a melhoria da qualidade de vida da população periférica, o Estado brasileiro tem frequentemente priorizado a intervenção policial e a repressão como resposta à pobreza e à marginalização.
Esse modelo de abordagem repressiva pode ser visto nas chamadas "operações de guerra" realizadas pela polícia militar nas favelas, onde o uso excessivo da força é justificado pela luta contra o tráfico de drogas e a criminalidade. No entanto, a ausência de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento das favelas é evidente. A falta de infraestrutura básica, como saneamento, transporte, educação de qualidade e acesso à saúde, agrava ainda mais a situação dessas comunidades, que são constantemente vistas como "zonas de conflito" e não como áreas que necessitam de desenvolvimento social e econômico.
A militarização dessas áreas é uma escolha política que, ao invés de buscar soluções estruturais, perpetua a violência e a exclusão social. O investimento em segurança pública, muitas vezes acompanhado de operações militares, é muito mais valorizado do que a criação de políticas de inclusão social, educação e saúde, o que reflete uma visão punitiva e excludente do Estado em relação às populações periféricas.
A desigualdade racial e socioeconômica tem um papel central na criminalização das periferias urbanas no Brasil. As favelas, que concentram uma grande parte da população negra e pobre, são tratadas como áreas perigosas e associadas à criminalidade, não por suas condições estruturais ou pela presença do tráfico de drogas, mas devido a um estigma racial profundamente enraizado. Esse estigma é alimentado por uma longa história de marginalização e discriminação racial, que remonta ao período da escravidão e persiste até os dias atuais, em forma de racismo estrutural.
A criminalização do território periférico é um reflexo da visão de que as populações negras e pobres são automaticamente culpadas ou associadas ao crime. O racismo estrutural se manifesta não apenas nas práticas sociais e culturais, mas também nas políticas públicas, que reforçam a ideia de que as comunidades negras são “perigosas” e devem ser tratadas com repressão, e não com políticas de inclusão e igualdade de oportunidades. A desigualdade social, juntamente com a pobreza, agrava essa criminalização, criando um ciclo vicioso em que as populações negras são vistas como vulneráveis ao envolvimento com atividades ilícitas e, portanto, merecedoras de vigilância e controle.
Estudos sobre a violência policial no Brasil mostram que a maior parte das vítimas da violência estatal é composta por jovens negros que residem em favelas e comunidades periféricas. Segundo o Atlas da Violência de 2024, 75% das vítimas de homicídios em favelas são negras, o que evidencia a relação entre a violência policial e a marginalização racial das periferias (IPEA, 2024). Essa estatística é um reflexo direto de como o racismo estrutural e a desigualdade social operam de maneira entrelaçada para marginalizar e criminalizar as populações negras no Brasil.
A desigualdade racial e socioeconômica não é apenas uma questão de classe, mas de como as condições históricas de exclusão da população negra geraram um ambiente de constante vigilância e repressão nas periferias urbanas. A presença do Estado nessas áreas, muitas vezes marcada pela violência policial, é uma resposta à pobreza e ao "perigo" associado aos corpos negros e periféricos. A solução proposta por setores da sociedade é o controle militar e policial, em vez de investimentos em políticas públicas que promovam o bem-estar, a educação e a igualdade de oportunidades para essas populações.
O histórico de marginalização das favelas e a constante criminalização das populações negras e periféricas refletem uma política pública excludente e punitiva que, ao invés de promover a inclusão social, tem reforçado a violência e o racismo estrutural. A ausência de investimentos em infraestrutura e serviços sociais, aliada à militarização das favelas e à criminalização da pobreza, perpetua um ciclo de exclusão e violência que afeta principalmente os corpos negros. A mudança desse quadro exige uma transformação profunda nas políticas públicas, que devem priorizar a inclusão social e a igualdade racial como bases para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
O Histórico de Marginalização das Favelas pelo Poder Público
O processo histórico de marginalização das favelas no Brasil é profundamente enraizado nas estruturas de exclusão social e racial que caracterizam o país desde o período colonial. Desde a formação das primeiras favelas, no final do século XIX, até os dias atuais, essas comunidades têm sido sistematicamente deixadas à margem das políticas públicas, sem acesso a infraestrutura básica, serviços de saúde, educação de qualidade e segurança, perpetuando um ciclo de pobreza e exclusão.
A marginalização das favelas tem suas origens na herança colonial, quando a população negra, majoritariamente composta por ex-escravizados, foi sistematicamente excluída das estruturas sociais e econômicas dominantes. Após a abolição da escravatura, a população negra não recebeu suporte para sua inserção no mercado de trabalho formal ou na cidadania plena, sendo empurrada para as margens das grandes cidades, onde passaram a viver em condições precárias.
A fundação das primeiras favelas ocorre nas primeiras décadas do século XX, quando a migração rural para as cidades, impulsionada pela industrialização e pelas promessas de uma vida melhor nos centros urbanos, fez com que um grande número de pessoas, principalmente negras e pobres, se estabelecessem em áreas periféricas. Essas áreas, na maioria das vezes, eram zonas de alagamento ou locais com pouca infraestrutura, muitas vezes ocupadas de maneira informal, sem o devido apoio do poder público.
A favela, como explica Soares (2000), surge como uma consequência direta da "exclusão espacial e social da população negra, que na década de 1930, se via obrigada a ocupar espaços não planejados, sem acesso aos direitos básicos de cidadania". Em grande parte, essa marginalização foi consolidada pela falta de políticas públicas e de integração das populações periféricas no processo de urbanização das cidades.
As favelas, nesse contexto, tornaram-se um reflexo do abandono do Estado, que não reconhecia seus moradores como cidadãos plenos. Em um primeiro momento, o poder público tratou essas áreas com desdém, sem oferecer qualquer tipo de urbanização ou investimento em serviços essenciais. A lógica da segregação e da exclusão social perdurou ao longo das décadas seguintes, enquanto as favelas continuavam a crescer desordenadamente, sem as condições mínimas de habitabilidade.
À medida que as favelas cresciam, as primeiras expressões de criminalização começaram a surgir. Em grande parte, essa criminalização estava diretamente relacionada à percepção do poder público e da sociedade sobre os moradores desses territórios, especialmente os negros e pobres. A favela passou a ser vista como um espaço de perigo, violência e marginalidade, e seus habitantes passaram a ser estigmatizados como criminosos em potencial. Este estigma, como destaca Silva (2016), "não era apenas um reflexo da realidade, mas também uma construção social que servia para justificar a ausência de políticas públicas eficazes".
A criminalização das favelas foi, e continua sendo, uma das formas mais eficazes de marginalização dessas comunidades. A ideia de que as favelas são "territórios de risco" foi disseminada, sendo associada à presença do tráfico de drogas e à violência. No entanto, o que se ignora é que as favelas, na maioria das vezes, são áreas com uma população que luta para sobreviver e que enfrenta dificuldades históricas para acessar direitos básicos. A presença do tráfico de drogas é um reflexo de um mercado informal que se forma devido à falta de alternativas econômicas viáveis para a população, além da exclusão do sistema formal de trabalho e da falta de apoio do Estado.
A repressão policial nas favelas, muitas vezes violenta, só reforça esse estigma. A política de "guerra às drogas", que tem como alvo as comunidades periféricas, é uma das expressões mais claras dessa marginalização. Em vez de investir em educação, saúde e políticas de inclusão social, o poder público e as forças policiais preferem abordar a questão da pobreza e da desigualdade por meio da repressão, utilizando a violência como ferramenta de controle social (Gomes, 2018).
A negligência do poder público em relação às favelas é, de certa forma, uma continuação da política colonial de abandono. As favelas, por serem vistas como espaços "indesejáveis", sempre foram tratadas como uma prioridade menor em termos de investimentos em infraestrutura. A falta de saneamento básico, a ausência de serviços de saúde adequados, a escassez de escolas e equipamentos públicos e a precariedade no transporte público são apenas alguns exemplos da histórica negligência que essas comunidades enfrentam.
A urbanização das favelas, quando ocorre, geralmente é feita de maneira improvisada e sem planejamento, muitas vezes por meio de iniciativas populares e não do Estado. Como argumenta Carneiro (2021), "a falta de políticas públicas de urbanização e inclusão social reflete a maneira como a favela é vista pelo Estado: como um problema a ser resolvido e não uma parte legítima da cidade que precisa de cuidados e direitos". A política pública de urbanização das favelas, que começou a ser pensada de forma mais organizada na década de 1990, ainda é insuficiente e está longe de alcançar uma verdadeira transformação nas condições de vida dos moradores.
O processo de "favelaização" das cidades brasileiras não é apenas uma questão de falta de planejamento, mas também de uma visão elitista e segregadora. A expansão das cidades foi pensada de forma a preservar os interesses das classes mais altas, enquanto as áreas periféricas eram deixadas de lado. O resultado disso é uma enorme disparidade entre os bairros centrais e as favelas, que continuam a ser áreas de abandono e falta de investimento.
Outro aspecto central da marginalização das favelas é a atuação das forças de segurança, que, ao invés de promoverem a paz e a segurança, frequentemente contribuem para a violência e o medo nas comunidades. A presença constante de policiais nas favelas, muitas vezes com a justificativa de combater o tráfico de drogas e a criminalidade, é uma forma de repressão que se intensifica a cada operação. As chamadas "operações de guerra", realizadas em nome da segurança pública, têm como alvo as comunidades periféricas e frequentemente resultam em abusos de poder, mortes de moradores e violações de direitos humanos.
Essa militarização das favelas não é uma solução para os problemas sociais dessas comunidades, mas sim uma forma de controle, uma forma de manter a ordem a partir da repressão. Como observa Souza (2017), "a presença das Forças Armadas ou da Polícia Militar nas favelas é vista como um símbolo da ausência do Estado em fornecer soluções efetivas para a falta de infraestrutura, emprego e serviços públicos nessas áreas". A presença das forças de segurança, ao invés de trazer paz, acaba por perpetuar a violência e a sensação de opressão dentro dessas comunidades.
O histórico de marginalização das favelas pelo poder público é um reflexo de um Brasil profundamente desigual, onde as estruturas de classe e raça continuam a determinar a qualidade de vida de milhões de pessoas. A falta de investimentos em infraestrutura, educação e saúde, somada à criminalização e à repressão policial, perpetua um ciclo de exclusão que afeta principalmente a população negra e periférica.
A mudança desse quadro exige uma transformação radical nas políticas públicas e uma revisão do papel do Estado nas periferias urbanas. É necessário que o poder público assuma sua responsabilidade de garantir os direitos básicos à população das favelas, investindo em urbanização, serviços sociais e infraestrutura, e, mais importante, rompendo com as práticas de marginalização, estigmatização e violência que perpetuam a exclusão social e racial no Brasil.
A Política de Segurança Pública como Instrumento de Opressão
A política de segurança pública no Brasil tem sido um dos principais pilares da estrutura de controle social e marginalização das populações mais vulneráveis, especialmente as negras e periféricas. Em vez de exercer a função de proteger os cidadãos e garantir seus direitos fundamentais, a segurança pública no país tem se consolidado como um mecanismo de repressão e violência, profundamente marcado pela desigualdade racial e social.
A origem da política de segurança pública no Brasil remonta ao período colonial, quando o objetivo principal das forças de segurança era controlar as populações negras escravizadas e impedir qualquer forma de resistência ou revolta. Durante o período escravocrata, as chamadas "forças do império" estavam intimamente ligadas à repressão de revoltas de escravizados e ao controle dos corpos negros, sendo um instrumento de preservação da ordem colonial (Rodrigues, 2009). Esse papel de controle e subordinação continuou ao longo dos anos, evoluindo para o modelo de polícia moderna que se configura como um agente de vigilância, controle e violência sobre as populações mais empobrecidas.
No contexto atual, a segurança pública no Brasil é caracterizada por uma abordagem que prioriza a repressão em vez da prevenção. Um dos aspectos centrais dessa política é a criminalização das favelas e periferias urbanas, onde as populações mais vulneráveis são constantemente tratadas como suspeitas, independentemente de seu envolvimento em atividades criminosas. Esse processo é alimentado pelo racismo estrutural, que associa as favelas e seus moradores à criminalidade, contribuindo para a ideia de que esses territórios precisam ser "controlados" por meio de operações militares e violência policial.
A militarização da polícia nas últimas décadas intensificou ainda mais essa dinâmica, fazendo com que as operações policiais nas periferias sejam cada vez mais semelhantes a um confronto bélico. De acordo com Silva (2017), "a militarização da segurança pública nas favelas transforma essas comunidades em zonas de guerra, onde a lógica de combate justifica a repressão indiscriminada e os abusos contra os direitos humanos".
A presença de armas de fogo pesadas, veículos blindados e o uso excessivo da força fazem parte do aparato de militarização que afeta diretamente a população periférica. Esse modelo de segurança não busca a proteção dos cidadãos, mas sim a subordinação e a violência contra aqueles que já são marginalizados pelo sistema.
A política de segurança pública no Brasil também está intrinsecamente ligada à criminalização da pobreza. As populações que vivem nas periferias são estigmatizadas, com seus territórios sendo constantemente vistos como "centros de criminalidade". De acordo com Carneiro (2018), essa visão estigmatizante transforma os moradores das favelas em "suspeitos em potencial", independentemente de suas ações ou comportamentos, e serve como justificativa para a repressão policial.
Essa lógica criminaliza a pobreza ao associar a falta de recursos e as condições de vida precárias nas favelas à violência e ao crime. Como argumenta Gohn (2014), "quando o Estado não investe em políticas públicas que resolvam as desigualdades sociais, ele recorre à repressão policial, tratando os problemas sociais como questões de ordem pública, e não como questões estruturais".
A falta de políticas públicas efetivas nas áreas de educação, saúde, emprego e moradia agrava ainda mais a situação de marginalização, resultando em um ciclo vicioso de pobreza, violência e exclusão. Em vez de abordar as causas da desigualdade, o Estado prefere investir em uma política de segurança pública punitiva, que não resolve os problemas, mas apenas os agrava.
As consequências dessa política de segurança pública são devastadoras para as comunidades periféricas. O aumento das mortes de jovens negros, a violência policial excessiva e a constante violação dos direitos humanos são reflexos diretos desse modelo repressivo. Como destaca a Anistia Internacional (2021), "as operações policiais nas favelas não são apenas uma tentativa de combater o crime, mas um exercício de controle social que resulta em um número alarmante de mortes e abusos".
Além disso, a violência policial e a militarização das favelas também afetam o psicológico dos moradores. O constante medo da abordagem policial e as mortes diárias criam um ambiente de terror, onde os moradores vivem em um estado de constante vulnerabilidade. Essa violência, por sua vez, contribui para o afastamento das comunidades em relação ao Estado e impede que os problemas estruturais sejam efetivamente solucionados.
A política de segurança pública no Brasil, em vez de ser uma ferramenta de proteção e promoção dos direitos, tem se consolidado como um instrumento de opressão, marginalização e controle das populações periféricas, especialmente as negras. A militarização da polícia e a criminalização das favelas são reflexos de um modelo de segurança pública que não visa à inclusão social, mas sim à repressão de grupos considerados "indesejáveis" pelo Estado.
É urgente que o Brasil repense seu modelo de segurança pública, adotando uma abordagem que priorize a proteção dos direitos humanos, o combate às desigualdades sociais e a promoção da inclusão das populações marginalizadas. A violência policial e a marginalização das periferias não são soluções para os problemas estruturais do país; pelo contrário, elas apenas aprofundam as desigualdades e perpetuam o ciclo de pobreza e exclusão.
Conclusão
A análise da violência nas periferias brasileiras sob a ótica da necropolítica evidencia que o Estado atua como um agente de repressão e extermínio, em vez de garantir proteção e direitos fundamentais. A seletividade da política de morte se materializa na militarização das favelas, na violência policial e no genocídio da população negra, perpetuando desigualdades estruturais e consolidando a exclusão social.
Ao entender essa dinâmica, torna-se essencial questionar e combater as políticas de segurança pública que legitimam a eliminação de corpos negros e periféricos. A resistência das comunidades, a mobilização social e a exigência por políticas públicas que promovam vida, e não morte, são caminhos urgentes para a desconstrução desse modelo violento. Afinal, enquanto o Estado continuar a determinar quem pode viver e quem deve morrer, a democracia permanecerá incompleta para grande parte da população brasileira.